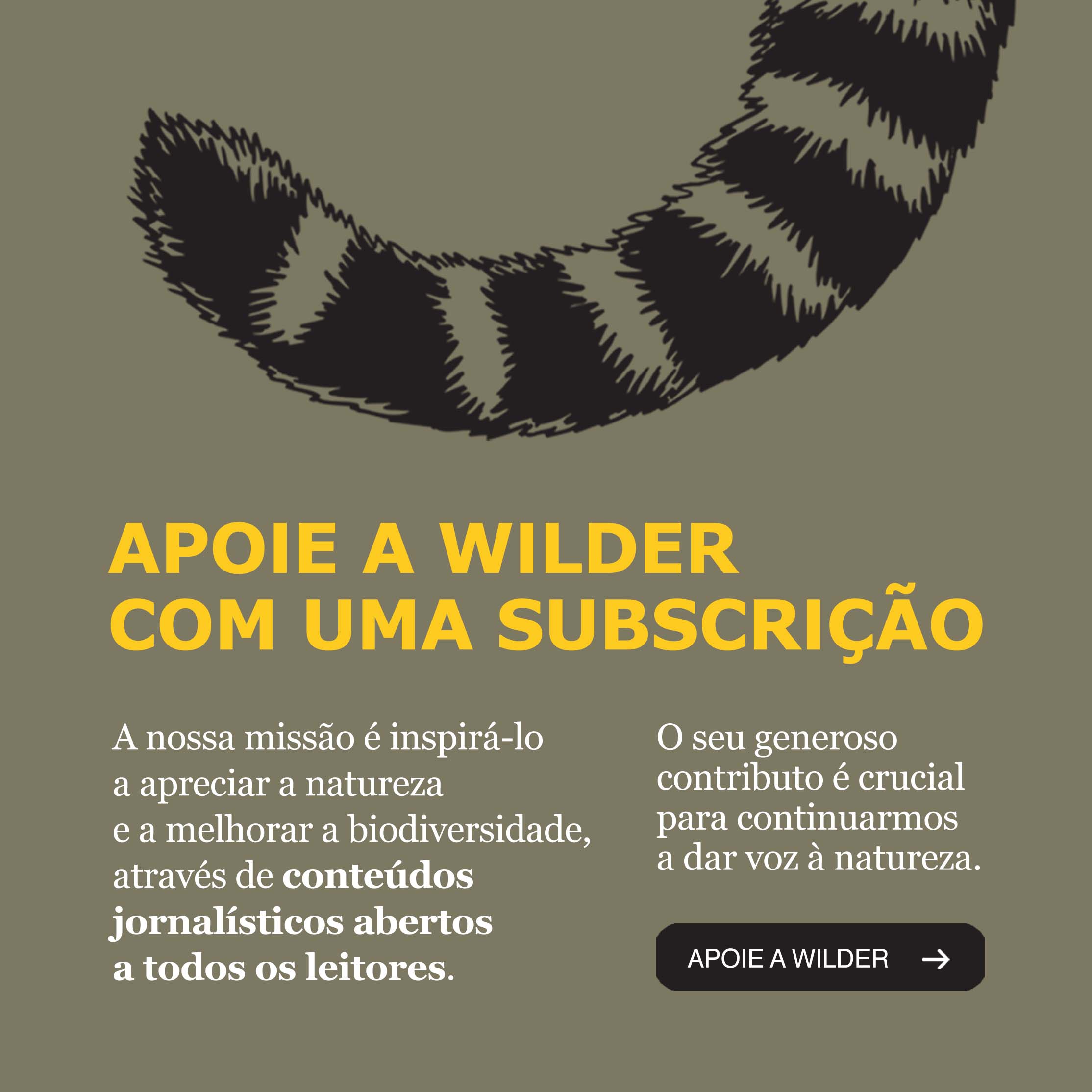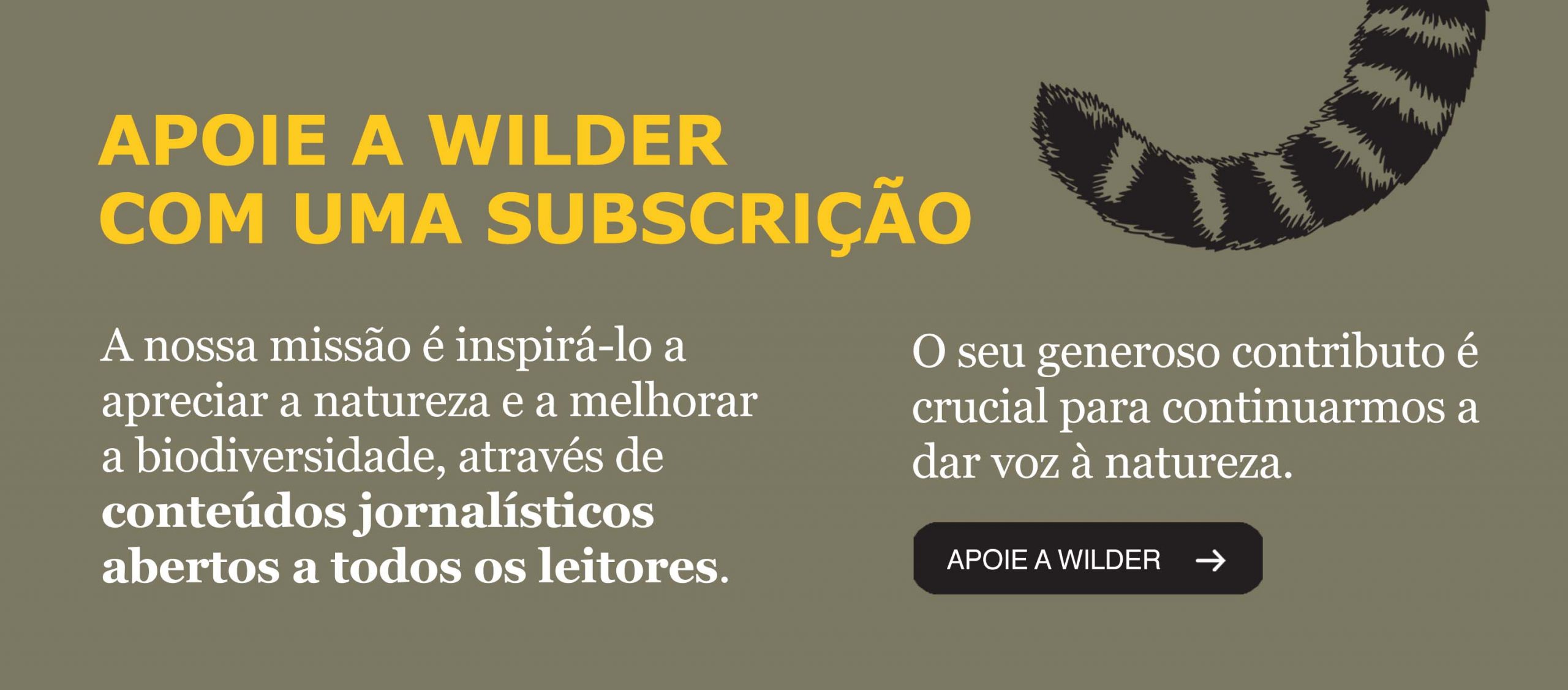O investigador e professor associado no Departamento de Biologia da Universidade de Oxford considera chocantes os números do último relatório Índice Planeta Vivo, divulgado pelo WWF. Em entrevista à Wilder, apela ao aumento dos recursos dedicados à conservação da natureza e a uma maior consciencialização das pessoas sobre a situação atual.
“A Terra será um lugar muito solitário se não conseguirmos estancar o atual declínio das populações selvagens”, avisa o investigador português, que comenta os dados contidos no documento divulgado no dia 10 de outubro. Ricardo Rocha chama a atenção para um estado de “amnésia coletiva” que pode acontecer quando uma espécie se extingue ou se torna rara, e que é “urgente” combater com uma monitorização muito mais efetiva da biodiversidade, incluindo em Portugal.
WILDER: Qual é o comentário que faz ao facto de o tamanho das populações de vida selvagem monitorizadas (de 5.495 espécies) ter diminuído 73% entre 1970 e 2020?
Ricardo Rocha: Um declínio de 73% é chocante e devia ser razão mais do que suficiente para que este relatório fosse notícia de abertura dos telejornais um pouco por todo o mundo. O Índice Planeta Vivo é um indicador do estado da biodiversidade no planeta, que resulta de uma colaboração da Sociedade Zoológica de Londres (ZSL) e do Fundo Mundial para a Natureza (WWF). O relatório que acaba de ser publicado reflete um trabalho robusto e exaustivo, para o qual foram analisados dados de cerca de 35.000 populações de espécies selvagens, focando-se nas últimas cinco décadas.
A cifra de 73% é o valor médio de declínio das populações monitorizadas. No entanto, este valor apresenta grandes disparidades regionais, sendo que na América Latina e nas Caraíbas o declínio médio é superior a 90% (por cada 10 animais que existiam numa dada população na década de 70, em média, existe apenas um na atualidade!), ao passo que na Europa e na América do Norte o declínio fica abaixo dos 40%. Esta aparente melhor performance da Europa e da América do Norte pode levar a crer que os esforços de conservação da natureza nestas duas regiões tiveram mais sucesso do que noutras zonas, no entanto, isso seria uma análise simplista e provavelmente errónea. Este declínio menos acentuado na Europa e América do Norte muito provavelmente reflete o quão devastada já estava a natureza europeia e norte-americana na década de 70.
Mas as disparidades não se limitam às diferentes regiões. O relatório salienta que os declínios populacionais são particularmente pronunciados em determinados ecossistemas, em particular nos ecossistemas de água doce, onde os declínios médios registados rondam os 85%. Esses números são maus, não há como tentar disfarçar isso. No entanto, não podemos apenas ver o copo meio vazio. A verdade é que os números seriam muito piores se não fosse o trabalho que tem sido levado a cabo por conservacionistas um pouco por todo o mundo. Ações como o estabelecimento de áreas protegidas, ou a reintrodução de espécies ameaçadas, têm contribuído e em muito para uma evolução menos negativa do estado das populações selvagens. Em casos pontuais, como no caso do bisonte europeu ou dos gorilas de montanha, as populações atuais são até superiores àquelas que existiam na década de 70.
Para a maioria das espécies, sabemos quais são as maiores ameaças à subsistência das populações selvagens e o que fazer para reverter o declínio das mesmas. No entanto, para que isso aconteça, são necessários dois ingredientes fundamentais: recursos e vontade política e social. Por mais animais domésticos que tenhamos, e por mais humanos que existam no planeta, a Terra será um lugar muito solitário se não conseguirmos estancar o atual declínio das populações selvagens.
W: Qual a importância e relevância destes relatórios bianuais Índice Planeta Vivo?
Ricardo Rocha: Ao monitorar o estado das populações de espécies selvagens ao longo do tempo, o Índice Planeta Vivo mede o pulso à natureza, servindo como um indicador precoce do risco de extinção e ajudando-nos a perceber o estado de saúde dos ecossistemas.[Estes relatórios] são uma ferramenta fundamental para que conservacionistas e gestores consigam perceber qual tem sido a eficácia das medidas tomadas e quais devem ser as prioridades a seguir para evitar colapsos ainda mais significativos, assegurando que as populações selvagens não caiam abaixo de limites que comprometam o seu papel nos diversos ecossistemas dos quais fazem parte, tais como a dispersão de sementes ou a reciclagem de nutrientes – dos quais tanto beneficiamos – ou dos limites necessários para que as populações apresentem um nível de resiliência aceitável a doenças, eventos climáticos extremos, ou outras perturbações.
W: Não estamos a conseguir travar a crise da biodiversidade. A escala do desafio exige, ou não, novos caminhos e estratégias de conservação?
Ricardo Rocha: Tal como houve um plano de recuperação para fazer face às consequências sociais e económicas da pandemia, é cada vez mais urgente que haja um plano concertado de recuperação da biodiversidade. Tanto a nível nacional como internacional, são imensas as iniciativas que visam travar a crise de biodiversidade. A década que vai de 2021 a 2030 foi designada pela ONU como a Década para a Restauração de Ecossistemas, e em 2020 foi aprovado o Acordo Verde Europeu. No entanto, apesar dos muitos esforços, os resultados tardam a aparecer e os ganhos, apesar de reais e importantes, têm sido demasiado modestos, tendo em conta a dimensão do cataclismo. É urgente que haja um aumento de recursos alocados à conservação da natureza, e que o uso desses recursos seja feito de acordo com a melhor evidência.
É também importante consciencializar a população como um todo para o estado da natureza. Um dos maiores riscos associados ao declínio das populações selvagens tem a ver com uma espécie de amnésia coletiva com que a sociedade é afetada quando os animais desaparecem, ou se tornam demasiado raros. Deixamos de os ver, e achamos que essa ausência é normal. A cada geração que passa, a nossa experiência empírica acaba por funcionar como uma armadilha, sugerindo que aquilo que experienciamos durante a nossa vida é o normal. Não nos apercebemos que o nosso termo de comparação em relação ao que é o estado normal da natureza é muito diferente do que era para os nossos pais ou avós – algo que em inglês é conhecido como ‘Shifting Baseline’.
Precisamos de uma monitorização muito mais efetiva das populações selvagens. Os dados que são incorporados no Índice Planeta Vivo são importantes, mas ainda ficam muito aquém do que precisamos para fazer uma leitura adequada do estado da biodiversidade.
W: Em relação a Portugal, como caracterizas o trabalho que se faz em conservação e o investimento atual?
Ricardo Rocha: Muito se tem feito em Portugal. Espécies como o lince-ibérico no continente, o priolo nos Açores ou o lobo-marinho na Madeira são exemplos particularmente meritórios no que toca à conservação da natureza. No entanto, o cenário geral de conservação da natureza no país ainda é muito desolador e a falta de recursos – tanto para a monitorização do estado das populações como para ações concretas de conservação – é demasiado aguda.
Ao longo dos últimos anos, o país tem beneficiado imenso de fundos LIFE, que visam financiar projetos de conservação da natureza na União Europeia. Muitos dos projetos têm tido resultados verdadeiramente incríveis, em particular no que toca ao controlo de espécies invasoras, como aconteceu na Berlenga e na Selvagem Grande. Acontece que, em paisagens com uma presença humana mais significativa, a complexidade dos fatores que impactam a biodiversidade, muitas vezes associados a alterações de uso do solo, expansão de infraestruturas ou ao impacto de animais domésticos como os gatos com acesso ao exterior, requerem muito mais do que projetos pontuais.
Vejamos o exemplo do sisão, uma das aves mais emblemáticas das estepes alentejanas: estima-se que em menos de 20 anos a população tenha diminuído em mais de 70% , tendo a conversão de zonas de produção cerealífera para regadios como principal causa. A complexidade das dinâmicas socioeconómicas associadas às mudanças de tamanho populacional das espécies selvagens faz com que projetos demasiado específicos e de curto prazo sejam demasiado paliativos.
Além do mais, a nível nacional, são poucos os programas de monitorização que efetivamente avaliam o estado de populações selvagens que não tenham interesse cinegético. Os poucos que existem, tais como o Censo das Aves Comuns, são muitas vezes realizados de forma voluntária sob a alçada de ONGs como a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) ou por investigadores a título individual. O que conseguimos dizer de forma efetiva sobre o estado dos répteis ou anfíbios de Portugal? E dos peixes de água doce? Faltam números. Falta monitorização, e sem isso, fica difícil avaliar o trabalho de conservação e as medidas necessárias.