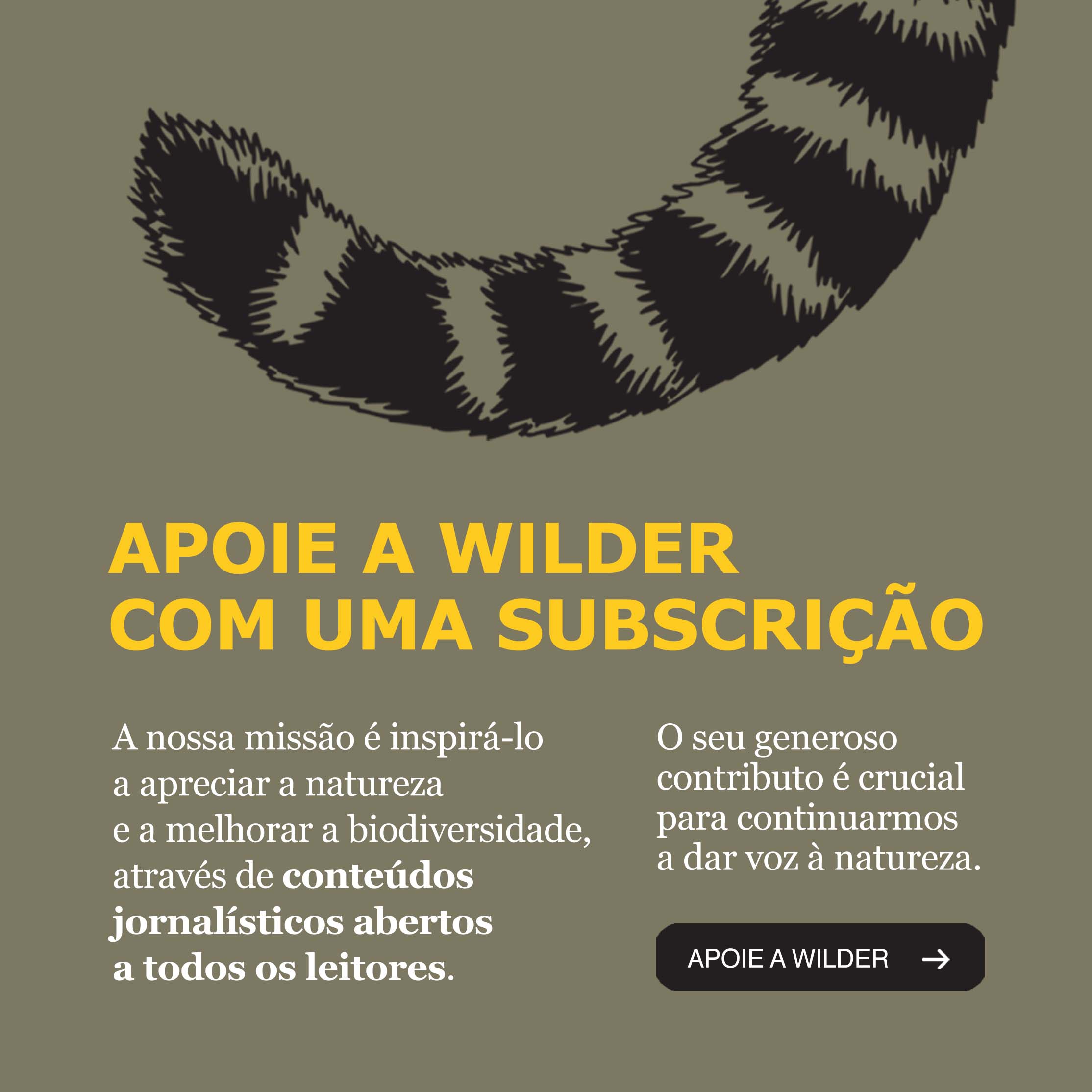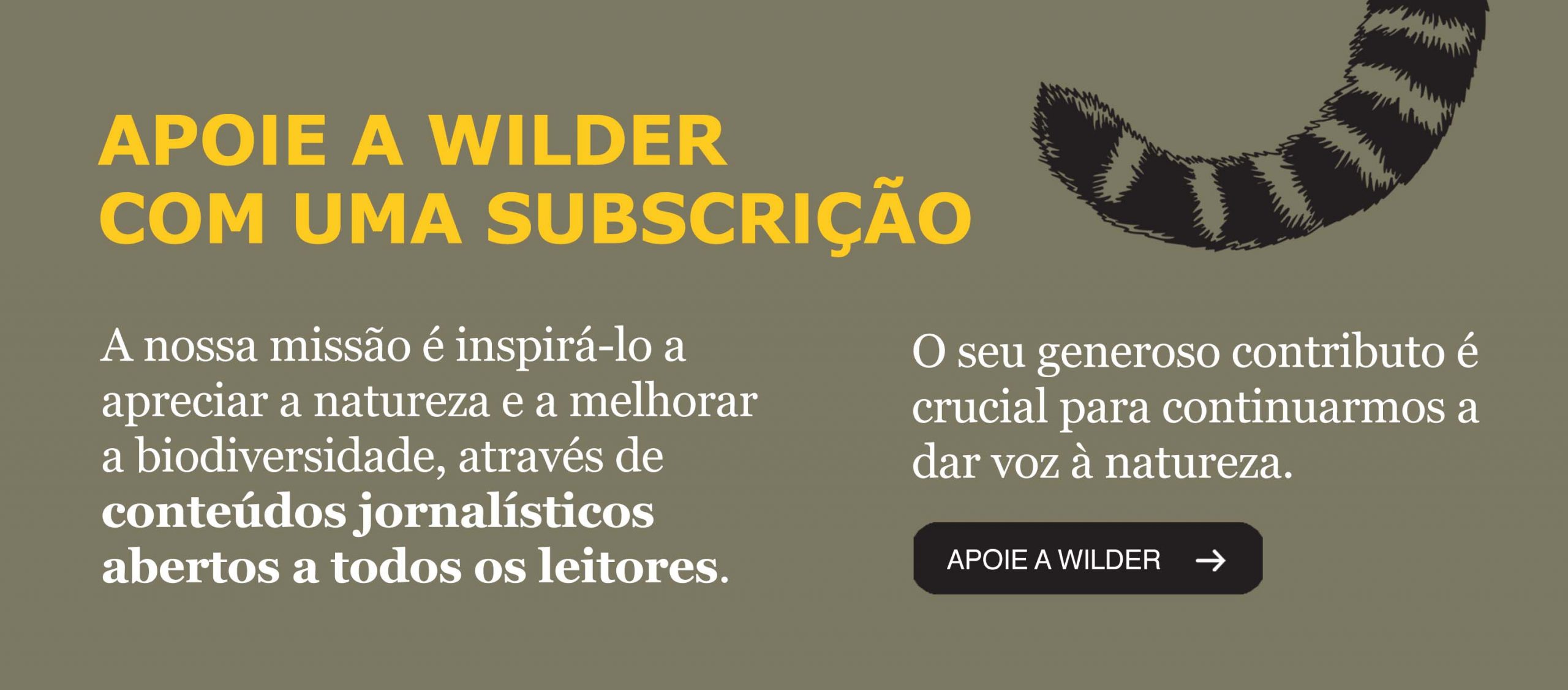Pedro Andrade, investigador no BIOPOLIS-CIBIO (Universidade do Porto), conta-nos porque algo tão simples como identificar uma espécie pode afinal ser um quebra-cabeças para os próprios cientistas. A começar por umas aves ricamente coloridas, como as mariquitas.
O que faz com que uma espécie seja uma espécie? Esta pergunta, que à primeira vista parece demasiado básica, é um dos maiores quebra-cabeças que têm entretido os biólogos ao longo dos anos. Se é verdade que observamos conjuntos de seres vivos que parecem formar grupos discretos (afinal de contas, uma sardinha é uma sardinha, um robalo é um robalo), também temos hoje noção de que as barreiras entre espécies podem ser relativamente fluidas.
Por exemplo, sabemos agora que muitas espécies, que antes pensávamos serem uma só, incluem afinal populações com características biológicas muito diferentes e que não se reproduzem entre si. É o que acontece quando falamos de espécies crípticas, ou seja, de espécies exteriormente iguais mas que correspondem a grupos com características ecológicas e percursos evolutivos distintos. Um desses casos é o da felosinha-comum e da felosinha-ibérica, que foram durante muitos anos consideradas como a mesma espécie. Por outro lado, processos como a hibridação fazem com que linhagens afastadas possam ainda manter contacto na árvore da vida (como vimos no artigo anterior, com o exemplo das lagartixas-dos-muros).
No entanto, mesmo que espécies diferentes se possam cruzar, esbatendo as barreiras entre o que são grupos naturais distintos, uma espécie continua a ser uma espécie, certo? Isto é, define-se como um conjunto de indivíduos com uma série de características semelhantes, com potencial para trocarem material genético e com características ecológicas distintas. Ou pelo menos, formando grupos que vão ficando cada vez mais distintos à medida que vão evoluindo em sentidos divergentes.
Mais uma vez, as simplificações ajudam-nos a perceber em traços gerais como a natureza funciona, mas são muitos os exemplos que mostram como olhar para os casos estranhos na natureza também ajuda a fazer sentido das coisas. É neste contexto que é fascinante olhar para a história das mariquitas, um grupo de aves com bastantes espécies que são comuns no continente americano. Especificamente, vamos neste artigo olhar com maior atenção para duas espécies, a mariquita-d’asa-dourada (Vermivora chrysoptera) e a mariquita-d’asa-azul (Vermivora cyanoptera).
Ambas são nidificantes na América do Norte, a mariquita-d’asa-dourada mais a norte e a mariquita-d’asa-azul na zona central, com uma faixa onde as duas ocorrem na zona dos Grandes Lagos. Apesar da aparência claramente distinta, desde o século XIX que as semelhanças ecológicas e as vocalizações destas aves intrigam os ornitólogos. Mais: ao longo dos anos, foi-se tornando claro que nascem com alguma frequência híbridos viáveis destas duas espécies, que apresentam diferentes combinações das cores cinzenta, prateada e amarela das espécies parentais.

O mistério da coexistência e evolução destas duas mariquitas apenas se tornou mais difícil de explicar quando se começaram a aplicar ferramentas genéticas na tentativa de perceber as suas relações de parentesco. Começando na década de 1980, análises cada vez mais avançadas foram revelando que não existia nenhum marcador genético que fosse distintivo entre ambas. Os indivíduos das duas espécies pareciam tão aparentados entre si como os indivíduos de uma só espécie numa população.
Ainda assim, faltava estar na posse de toda a informação. É que até recentemente, a única forma que os cientistas tinham de conhecer a genética de espécies relativamente pouco estudadas, como o são a maior parte das espécies selvagens, era analisar pequenos pedaços de DNA – porções ínfimas do total da informação que é passada entre pais e filhos e que pode explicar como os genes influenciam as características externas de animais, plantas e outros seres vivos.
Finalmente, em 2016, os cientistas conseguiram olhar pela primeira vez para a totalidade da informação genética da mariquita-d’asa-dourada e da mariquita-d’asa-azul. Este estudo confirmou a principal conclusão dos anteriores: apesar das diferenças claras de aspeto entre as duas espécies, elas são essencialmente idênticas no seu perfil genético. No entanto, o aspeto exterior de ambas é diferente, pelo que alguma coisa terá que explicar isto. Quando os cientistas olharam para todas as diferentes porções do genoma, encontraram apenas seis pequenos segmentos em que efetivamente estas duas aves são diferentes.
Entrando pelas metáforas culinárias, é como se cada espécie fosse uma receita. Sendo ambas as espécies mariquitas, muito próximas, vamos assumir que temos duas receitas de bolos de cenoura, mas em que numa delas acrescentamos umas gotas de corante vermelho. Apesar de serem ambos bolos de cenoura, exteriormente são muito diferentes, mas os ingredientes não são sequer parecidos, na verdade são essencialmente idênticos. Um bolo de cenoura com corante vermelho continua a ser um bolo de cenoura?
No caso das mariquitas, os cientistas encontraram mais de 11 milhões de variantes genéticas, mas apenas pouco mais de 300 daquelas apresentavam grandes diferenças entre ambas as espécies, e estavam quase todas agrupadas nesses seis segmentos do genoma. Dentro desses seis segmentos, os cientistas encontraram… “corantes genéticos”! Ou mais corretamente, genes que noutras espécies já se tinha demonstrado que são responsáveis por controlar a variação de cor.
Um exemplo é o gene agouti (também conhecido como ASIP), um gene que atua durante a produção da melanina (o mesmo pigmento que dá cor à pele e cabelo das pessoas) controlando a produção de formas claras ou escuras de melanina. Por exemplo, num gato malhado, a alternância claro-escuro nos seus pelos deve-se à forma como este gene agouti liga e desliga várias vezes enquanto cada pelo cresce. Noutro exemplo, algumas raças de cães como os doberman ou os rotweiller têm um padrão característico escuro no dorso e claro no ventre, devido a mutações neste mesmo gene, que criam um padrão de deposição diferente entre formas claras e escuras de melanina. Já nas mariquitas, o gene agouti está envolvido na presença/ausência da cor escura na garganta (presente na mariquita-d’asa-dourada, ausente na mariquita-d’asa-azul).
Outro “suspeito habitual” que os cientistas encontraram nestes seis segmentos do genoma é o gene BCO2, um gene envolvido no metabolismo de carotenóides, que são pigmentos tipicamente associados às cores amarela, laranja ou vermelha. Este gene foi já implicado muitas vezes em diferentes colorações. Por exemplo, as galinhas têm patas amarelas ou as lagartixas barrigas amarelas, quando as suas versões do BCO2 deixam de metabolizar carotenóides, permitindo que estes se depositem nos tecidos. Nas mariquitas, o gene BCO2 provavelmente é menos ativo na plumagem da mariquita-d’asa-azul, o que faz com que esta ave seja muito mais amarela.

Por isso, a mariquita-d’asa-dourada e a mariquita-d’asa-azul são duas espécies ou apenas uma? Essa é uma questão muito interessante do ponto de vista fundamental, pois procura respostas para sabermos mais sobre como a natureza funciona, mas também tem consequências para a conservação das espécies. Tal como muitas outras aves, estas duas mariquitas encontram-se em declínio populacional acentuado há já várias décadas. O problema é particularmente grave para a mariquita-d’asa-dourada, que enfrenta extinções locais em várias das suas áreas de ocorrência original na cordilheira dos Apalaches.
Em alguns locais, a mariquita-d’asa-dourada está a ser substituída inclusive pela mariquita-d’asa-azul. Mas do que estamos aqui a falar? Trata-se de uma espécie a ser substituída por outra, ou uma variante de uma espécie a tornar-se mais comum onde antes outra variante ocorria? Faz sentido desenharmos planos de conservação específicos para conservar a mariquita-d’asa-dourada, quando o que a torna uma mariquita-d’asa-dourada parece não ser muito mais do que a ação de seis pequenos pedaços de informação genética associados à produção de pigmentos?
Este exemplo e outros semelhantes são uma boa demonstração de como olhar “debaixo do capot” de uma espécie dá origem a uma série de perguntas, algumas delas desconfortáveis, sobre a forma como encaramos a diversidade da vida e como agimos perante ela. Tal como conhecemos casos de espécies efetivamente independentes mas exteriormente indistinguíveis, também se começam a revelar outras que parecem diferentes mas são essencialmente a mesma coisa. Num mundo em que os recursos para a conservação da natureza são muito limitados, faz sentido preservar estas diferenças? A genética não nos dá resposta a esta questão ética, quer para um lado, quer para o outro. Mas certamente dá-nos informação para pensar.
Referências
Toews, D. P., Taylor, S. A., Vallender, R., Brelsford, A., Butcher, B. G., Messer, P. W., & Lovette, I. J. (2016). Plumage genes and little else distinguish the genomes of hybridizing warblers. Current Biology, 26(17), 2313-2318.
A nova série “Está nos genes”, sobre a genética da vida selvagem, é da autoria de Pedro Andrade, investigador em biologia evolutiva no BIOPOLIS-CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, onde estuda a evolução e genética de animais selvagens e domésticos. Descubra aqui mais artigos deste cientista.