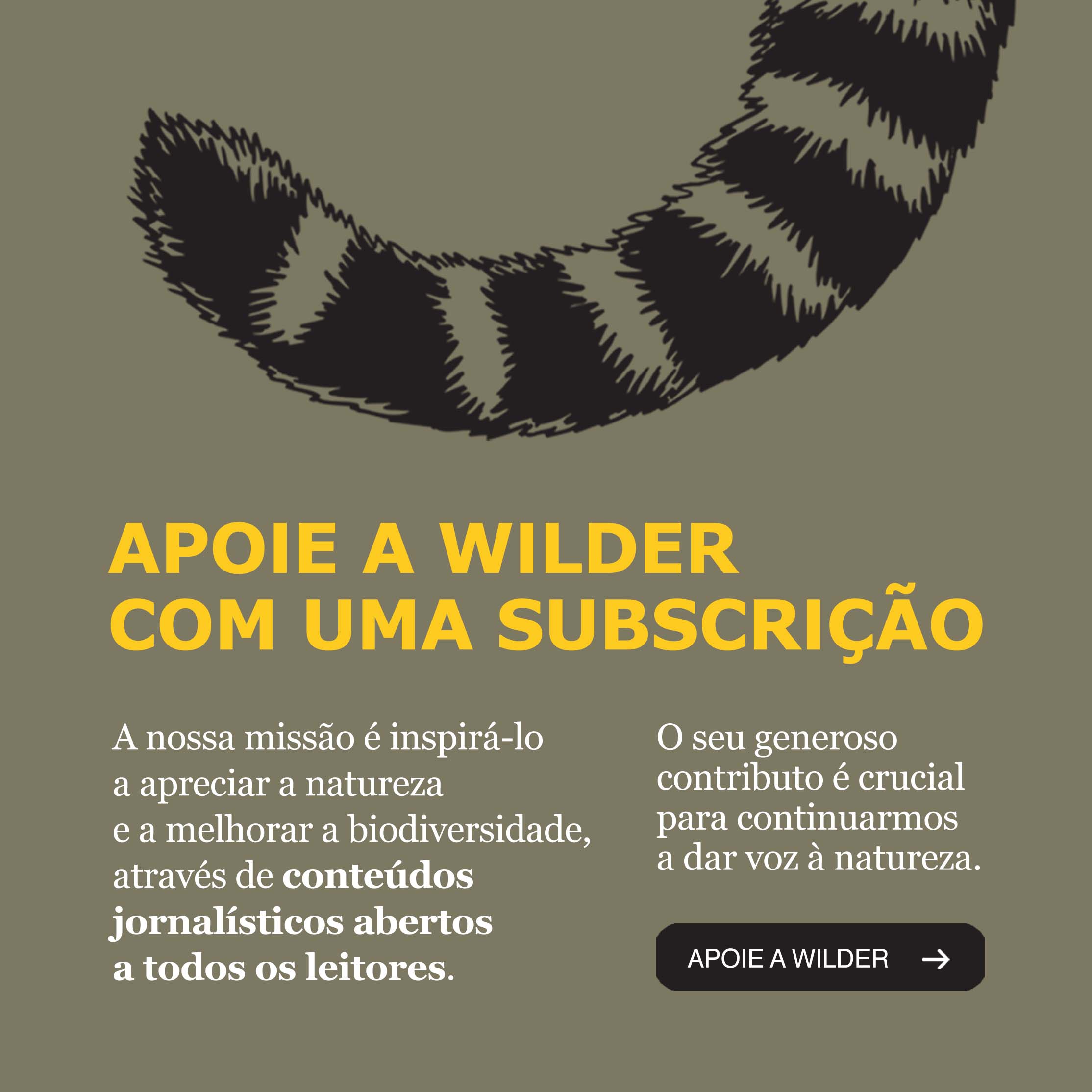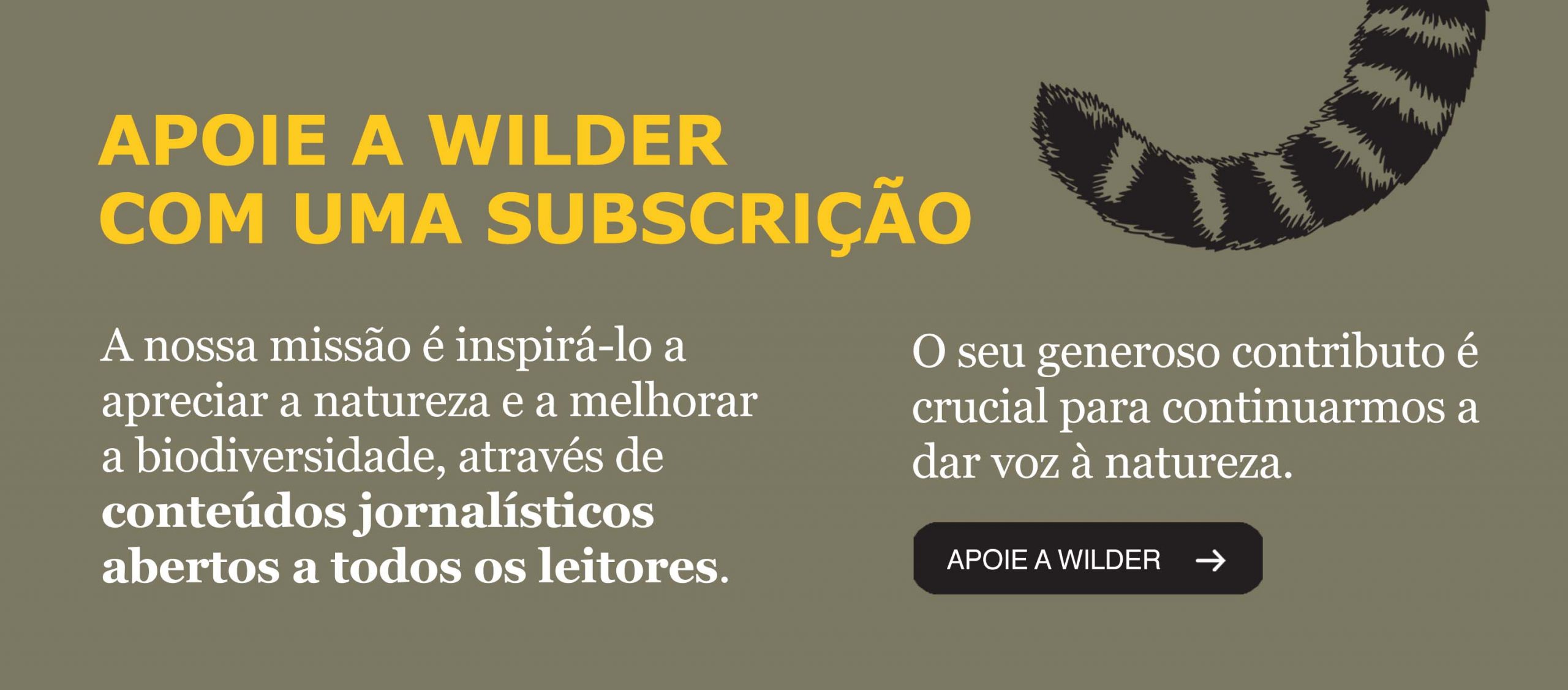Na sequência de um novo estudo científico que liderou, sobre as possibilidades de rewilding no continente europeu, o investigador português fala sobre a situação nacional e as oportunidades que se podem estar a perder.
Miguel Bastos Araújo é um biogeógrafo português reconhecido pelo trabalho que tem desenvolvido relativamente às alterações climáticas, atualmente a trabalhar como investigador na Universidade de Évora e no Museu Nacional de História Natural, em Madrid. A propósito de um estudo agora publicado na revista científica Current Biology, que conclui que quase 25% do território do continente europeu tem boas condições para o rewilding, falou com a Wilder sobre o que se poderá fazer em Portugal para aumentar a aposta nestes projetos.
Wilder: No vosso estudo, Portugal aparece como um dos países elegíveis para a aposta em projetos de rewilding. De que áreas estamos a falar?
Miguel Bastos Araújo: Portugal é um país que tem um grande potencial para a renaturalização, em particular nas metades Norte e Leste. Toda aquela zona da raia a partir do Tejo Internacional e até Trás-os-Montes, talvez incluindo um pouco mais abaixo, a Serra de São Mamede, tem bastante potencial para se desenvolverem projetos de renaturalização. Não é só um corredor nacional, é um corredor transfronteiriço, que inclui territórios em Castela e Leão, que se junta às Astúrias, à Cantábria e Galiza, abarcando a cordilheira dos Picos da Europa.
Depois temos áreas um pouco dispersas pelo país, em particular pelas serranias, com um grande destaque, em segundo lugar, para o Algarve – nas serras de Espinhaço de Cão e Caldeirão, com uma área contígua de mais de 100 mil hectares com potencial de renaturalização, que é também um refúgio climático importante. É uma zona de transição entre o Baixo Alentejo e o Algarve, mas todo o corredor destas serras, começando em Monchique, junta-se depois a Espanha, à Serra Morena que se conecta com os Montes de Toledo a norte e a Cordilheira Bética a sul. Há toda uma continuidade biogeográfica muito interessante, que já foi identificada no passado pelo próprio WWF (World Wildlife Fund) como um corredor ecológico ibérico.

W: Mas tendo em conta a grande ocupação do solo por quase todo o país, haveria espaço para grandes projetos?
Miguel Bastos Araújo: A questão é que em Portugal temos três grandes trajetórias de uso de solo. A mais recente, e mais pontual, é a intensificação agrícola no Baixo Alentejo e a transformação de culturas anuais de sequeiro em culturas permanentes de regadio, em redor do plano de rega do Alqueva. A grande dicotomia, porém, é entre o Litoral e o Interior: uma intensificação da ocupação humana no Litoral e e abandono rural no Interior.
Vale a pena termos uma reflexão séria, de âmbito nacional, sobre o que fazer perante esse abandono. Uma reação instintiva, porque existem paisagens culturais e as pessoas gostam dessas paisagens, é dizer, “nós vamos subsidiar estas paisagens, vamos pagar às pessoas para que elas não abandonem a terra”. A questão é, até quando vamos conseguir manter pessoas a desenvolver atividades que não querem desenvolver, a não ser que sejam subsidiadas pela economia do Litoral.
A decisão de subsidiar paisagens culturais é obviamente uma decisão coletiva de um país. Mas é difícil visualizar uma paisagem, que tradicionalmente é mantida pela economia rural, quando esta deixa de fazer sentido económico. As pessoas hoje em dia tendem a abandonar esses terrenos, que se tornam hiper marginais, e à medida que as pessoas morrem, ficam abandonados. Na sequência desse processo, dá-se uma redução de densidade dos herbívoros domésticos que não é substituída por igual densidade de herbívoros silvestres. O resultado é uma acumulação de biomassa e uma uniformização da paisagem e esse é o caldo para a existência de incêndios grandes. E esses incêndios de grandes dimensões, cada vez mais frequentes, acabam por fazer parte da equação que afugenta ainda mais as pessoas do mundo rural.
W: Mas estamos a falar de reduzir a ocupação humana ao máximo nesses territórios?
Miguel Bastos Araújo: A redução de ocupação humana é uma trajetória que já leva várias décadas. Precisamos é de decidir o que fazemos perante essa situação. Uma das opções possíveis é o Estado subsidiar a atividade económica, porque são territórios com produtividades primárias bastante reduzidas, com climas agrestes e pouca densidade de serviços públicos. As pessoas tendem a afastar-se porque a terra é madrasta, como se costumava dizer, e de facto as pessoas querem ter serviços públicos, hospitais, escolas que tendem a ser insuficientes em qualidade e quantidade quando as comunidades são reduzidas e estão dispersas pelo território. Estamos a falar de regiões como a Beira raiana, Trás-os-Montes, a norte do Tejo, mas também as regiões mais deprimidas do Alentejo.
O que se passa por exemplo nalgumas aldeias do Interior, por exemplo, é que estas mantêm a mesma estrutura demográfica ano após ano. Há estudos de sociologia e de geografia humana que mostram que as pessoas residentes em muitas destas aldeias são pessoas que emigraram para as cidades e depois voltam para se reformar. À medida que os mais velhos morrem, são substituídos por outros idosos que regressam das cidades, mantendo assim uma estrutura demográfica estável. É uma bomba relógio demográfica e uma questão de tempo até que a geração dos imigrantes que retornam da cidade para o campo deixem de regressar, até porque se não houver investimento há cada vez menos serviços púnblicos e menos comércio.
É uma opção legítima se a sociedade portuguesa quiser contrariar, com fundos públicos, a trajetória de envelhecimento e perda de relevância económica destas regiões. Mas será difícil voltarmos a ter sociedades rurais vibrantes, maioritariamente compostas por jovens, como as que tínhamos nos anos 50 e 60 do século passado.

W: Qual seria a possibilidade alternativa?
Miguel Bastos Araújo: De certo modo, podemos reinventar uma paisagem rural onde se substitui, quando possível ou mesmo inevitável, uma agricultura de baixo rendimento, pelo restauro de áreas naturais que se financiam pelo turismo de natureza, pelo ócio, pelo lazer, ou seja, por uma economia de serviços associada ao reforço do capital natural destes territórios. Mas para que isso aconteça, temos de ter uma natureza com alguma qualidade em termos paisagísticos, de modo a criar âncoras que possam atrair os turistas mais exigentes.
As pessoas vão em grandes números a África visitar parques naturais e gastam fortunas para lá irem. Aqui, estamos a falar de dimensões diferentes, mas é possível que as nossas áreas protegidas tenham uma gestão mais eficaz, mais direcionada para o utilizador e a conservação da natureza. Portanto, assumir a conservação da natureza como um dos desígnios centrais das nossas áreas protegidas, aumentando a área sujeita a uma gestão proativa de renaturalização.
W: Mas existe viabilidade económica no rewilding?
Miguel Bastos Araújo: Se formos honestos temos de começar por reconhecer que uma grande área do país está sujeita ao abandono rural. E o que queremos fazer face a esse abandono? Ou subsidiamos as atividades económicas que lá existiam, ou fomentamos o desenvolvimento de outras atividades económicas viáveis, que transformarão as paisagens. Uma alternativa é a renaturalização. Outra, por exemplo, seria a floresta de produção, ainda que com as alterações climáticas em processo de aceleração e o decorrente aumento do risco de incêndios, é discutível se esta será a melhor opção, ou sequer uma opção viável em extensas áreas do território. Se a opção for a renaturalização, será necessário melhorar a qualidade da oferta de turismo da natureza. Por exemplo, implica que as pessoas possam ser expostas a experiências diferenciadoras, como terem acesso a pequenos safáris para verem veados e eventualmente, até lobos…
Enfim, haverá que pensar a renaturalização do ponto de vista do funcionamento dos ecossistemas mas também do ponto de vista da melhoria da oferta turística. Isto que digo não é revolucionário. Em 1903, o Presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, escreveu no cimo da entrada do parque nacional de Yellostone: “For the Enjoyment of People”. Se adotarmos esta abordagem, teremos de começar por aumentar a densidade de muitos dos animais de grande e médio porte que compõem a nossa fauna na atualidade. E também ponderar, caso a caso, a reintrodução de alguma da nossa fauna nativa que entretanto se extinguiu.

W: E quanto aos objetivos da Estratégia Europeia de Biodiversidade, Portugal tem condições para chegar lá?
Miguel Bastos Araújo: Dentro do quadro dos objetivos da Estratégia Europeia de Biodiversidade, há dois fáceis de memorizar. O primeiro é proteger 30% do território. Penso que não vai ser complicado chegarmos lá. No último Conselho de Ministros do Governo de António Costa, uma resolução reclassificou os geoparques e as áreas da biosfera em áreas protegidas, classificadas, para contar para os 30%. Estávamos com 23% do território nessa situação e então com esta reclassificação administrativa chegámos aos 34%. Nestas áreas temos cidades – por exemplo, Guarda e Bragança estão incluídas -, temos fábricas, autoestradas…
Esta medida administrativa é de facto um custo de oportunidade muito grande, pois não representa qualquer reflexão estratégica sobre prioridades. Não é todos os dias que existe uma pressão para aumentar o espaço protegido. E uma vez que tenhamos 34% classificados, teremos excedido as metas europeias e o Estado deixa de ter qualquer incentivo para classificar mais territórios que sejam verdadeiramente importantes para os objetivos de conservação da biodiversidade. É inexplicável que no século XXI, sabendo o que sabemos, o Governo não se tenha socorrido da melhor informação científica disponível, auxiliada por um processo de planeamento participado, para tomar decisões estratégicas de longo prazo sobre o ordenamento das atividades de conservação e gestão da natureza. Oportunidades como esta acontecem uma vez em cada geração, pelo que o alcance desta decisão preguiçosa do ponto de vista processual vai ter consequências importantes.
Foi uma oportunidade perdida para a vida. Mas espero, sinceramente, que o atual Governo revogue esta resolução do Conselho de Ministros e volte a colocar em cima da mesa o processo de ampliação das áreas classificadas para fins de conservação da natureza em Portugal, recorrendo à melhor informação científica e em diálogo com os ‘stakeholders’ (partes interessadas) que tenham algo a dizer sobre estas matérias.
W: Os 10% de proteção estrita são outra das metas da Estratégia Europeia para a Biodiversidade.
Miguel Bastos Araújo: Ainda não vi um membro do Governo, nem deste nem do anterior, a falar disso. Dá a ideia que não há estratégia ou que, a existir, ainda não foi comunicada. Mas há, de facto, uma dificuldade séria para alcançar esses 10%. A conservação estrita pode definir-se de várias maneiras, mas há uma que é comum a todas: a conservação da biodiversidade terá de ser sempre o uso mais importante daquele território, subordinando-se outros usos produtivos a uma convergência com os objetivos de conservação. Tendo em conta que aproximadamente 97% do território português é privado, este não é um objetivo fácil de alcançar. Temos um défice de terreno público, o que complica a gestão do território para a conservação e regeneração de bens públicos, como é o o caso da biodiversidade.
W: O que pode ser feito para alcançarmos essa meta?
Miguel Bastos Araújo: Há três medidas que podem ser tomadas. Uma é a aquisição por parte do Estado de territórios com valor de conservação, especialmente se forem protegidos, de modo a normalizar Portugal no contexto internacional em matéria de propriedade de áreas protegidas. Por exemplo, em Espanha, a maior parte das áreas protegidas ocorrem em território público. O mesmo acontece nos Estados Unidos da América – que não são, necessariamente, entusiastas da ideia de que o Estado deve estar presente na vida das pessoas.
Em Portugal, temos uma empresa pública chamada FlorestGal que tem como missão a aquisição de território. No último Governo, a orientação foi comprar território protegido, de alguma maneira contribuindo para suavizar a anomalia portuguesa que consiste em termos a maior parte do nosso território protegido na mão de privados. No entanto, o investimento público é insuficiente para fazer crescer o território público afecto à conservação no horizonte de 2030.
Por outro lado, é pouco claro que os objetivos de gestão dessas parcelas públicas sejam afetos ao que se denomina de conservação estrita na Estratégia Europeia de Biodiversidade. Existe uma exploração silvícola, no sentido em que são proporcionados bens transacionáveis no mercado. Porém, se queremos que esta empresa contribua para que o Estado português alcance o objetivo de conservar 10% do território de forma estrita, tem de haver uma reflexão mais profunda sobre os objetivos de gestão que presidem à atuação da única entidade pública que em Portugal tem como missão comprar território privado, para o trazer de volta à esfera do Estado.
W: E qual seria a segunda prioridade?
Miguel Bastos Araújo: Tem a ver com a criação de incentivos para o investimento privado em conservação da natureza. Isto implica, obviamente, um tratamento fiscal favorável a quem dedique território privado para produção de bens públicos. Implica ainda fazer-se uma reforma legislativa que garanta a blindagem dos territórios sujeitos a investimento privado para a conservação, especialmente se forem áreas com valor comprovado.
W: Ou seja, para que daqui a poucos anos não se alterassem completamente os objetivos?
Miguel Bastos Araújo: Exatamente. É necessário garantir segurança jurídica, ou seja, que haja previsibilidade sobre as consequências desse investimento. Um mecenas não vai dar, por hipótese, 10 milhões de euros para conservar um território, se depois de morrer a propriedade se transformar numa plantação de eucaliptos ou numa mina de lítio. Isto implica a criação de servidões de direito privado, que teriam um funcionamento análogo às nossas servidões públicas, a RAN, Reserva Agrícola Nacional, e a REN, Reserva Ecológica Nacional. Estas impõem restrições ao uso do território para preservar bens públicos, seja a qualidade do solo agrícola, seja a proteção do solo contra a erosão, ou a regularização do ciclo hidrológico, entre outros. Esses são os grandes princípios por trás da REN e da REN, que foram idealizadas por Ribeiro Telles. A grande diferença entre a servidão pública e a servidão privada é que a primeira é determinada pelo quadro regulatório do país, enquanto a segunda decorre de uma classificação voluntária, solicitada pelos proprietários de um determinado terreno, com base em critérios de adequabilidade do território para a conservação.
Infelizmente não tenho riqueza pessoal, mas se tivesse, gostaria de investir na compra de grandes áreas para conservação da biodiversidade. Mas como qualquer investidor, teria de haver um mínimo de garantias sobre a continuidade do investimento, pois é um investimento em bens públicos com reduzida ou mesmo nenhuma remuneração. Ao Estado cabe o papel de facilitar esses investimentos, trazendo legislação que crie a segurança jurídica necessária para dar confiança aos investidores.

W: E qual é a terceira medida a tomar?
Miguel Bastos Araújo: Precisamos de desenvolver uma forma de financiamento das áreas cuja gestão beneficie os bens públicos, por exemplo, os serviços dos ecossistemas. Uma possibilidade é ampliar o âmbito de programas financiados pelo Estado, como acontece atualmente com alguns projetos de caráter quase experimental. Outra hipótese passa pela formalização de mecanismos de financiamento que sejam independentes do orçamento de Estado. É o caso dos mercados de biodiversidade, semelhantes ao mercado de carbono, onde as pessoas e organizações que fazem a gestão do território com resultados positivos para os bens públicos, neste caso a biodiversidade, ganham créditos. Ao mesmo tempo, entidades que façam uma gestão oposta e que degradem os bens públicos, como é o caso do capital natural do território, teriam de pagar um valor para financiar a gestão da biodiversidade realizada noutras propriedades.
Uma das vantagens de um sistema com essas características, principalmente num país como Portugal, seria garantir uma regularidade, uma estabilidade e uma previsibilidade do mecanismo de financiamento, à margem dos orçamentos de Estado e das orientações de sucessivos governos.
Por detrás destas reflexões está um postulado geral que me parece essencial: o que deve ser remunerado pelo Estado é o bem público, não o bem privado. Se um empreendedor a pessoa quiser plantar morangos de forma intensiva num território que não é climaticamente e ambientalmente adequado para esse fim, recorrendo ao uso intensivo de pesticidas, de água e à plastificação do território, a produção desse bem privado deverá ser exclusivamente e remuneradao pelos consumidores. Havendo uma degradação de um bem público como resultado dessa exploração agrícola, haverá lugar a um pagamento à entidade que gere o mercado de biodiversidade, que seja proporcional à degradação infligida.
Em contrapartida, se o empreendedor optar por realizar uma agricultura de compromisso com a manutenção do bem público, que implica uma gestão sustentável dos recursos naturais, então estes deverão ser receptores de financiamento por parte da entidade gestora do mercado de biodiversidade pelo benefício público gerado. Desta forma, a perda de produtividade associada à opção de gerir o território de forma menos intensiva e mais compatível com outros valores da terra, poderia ser compensada financeiramente. Esta abordagem implica que o Estado clarifique de uma vez por todas qual o seu papel como regulador e adote o princípio de que os dinheiros públicos devem usados para financiar bens públicos.