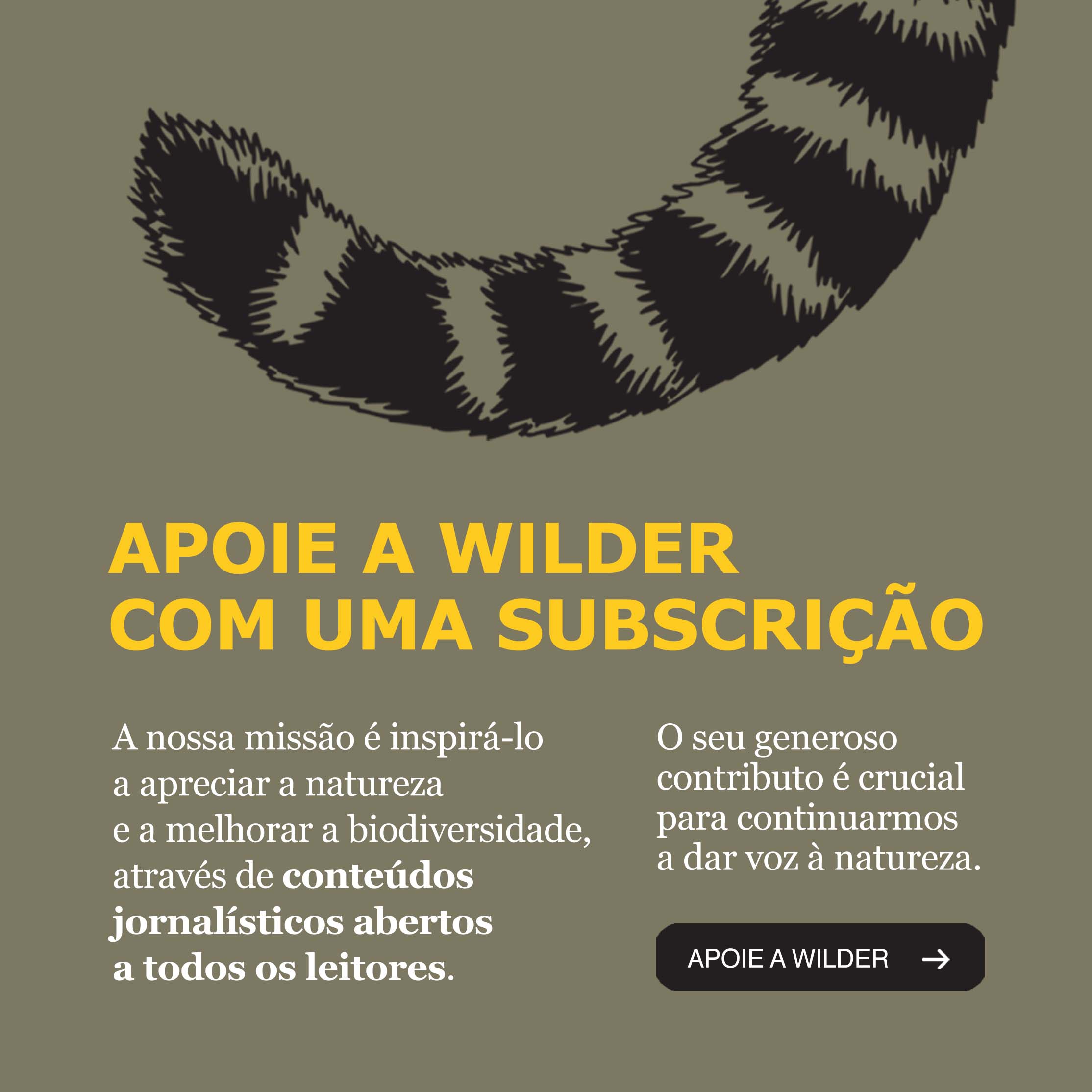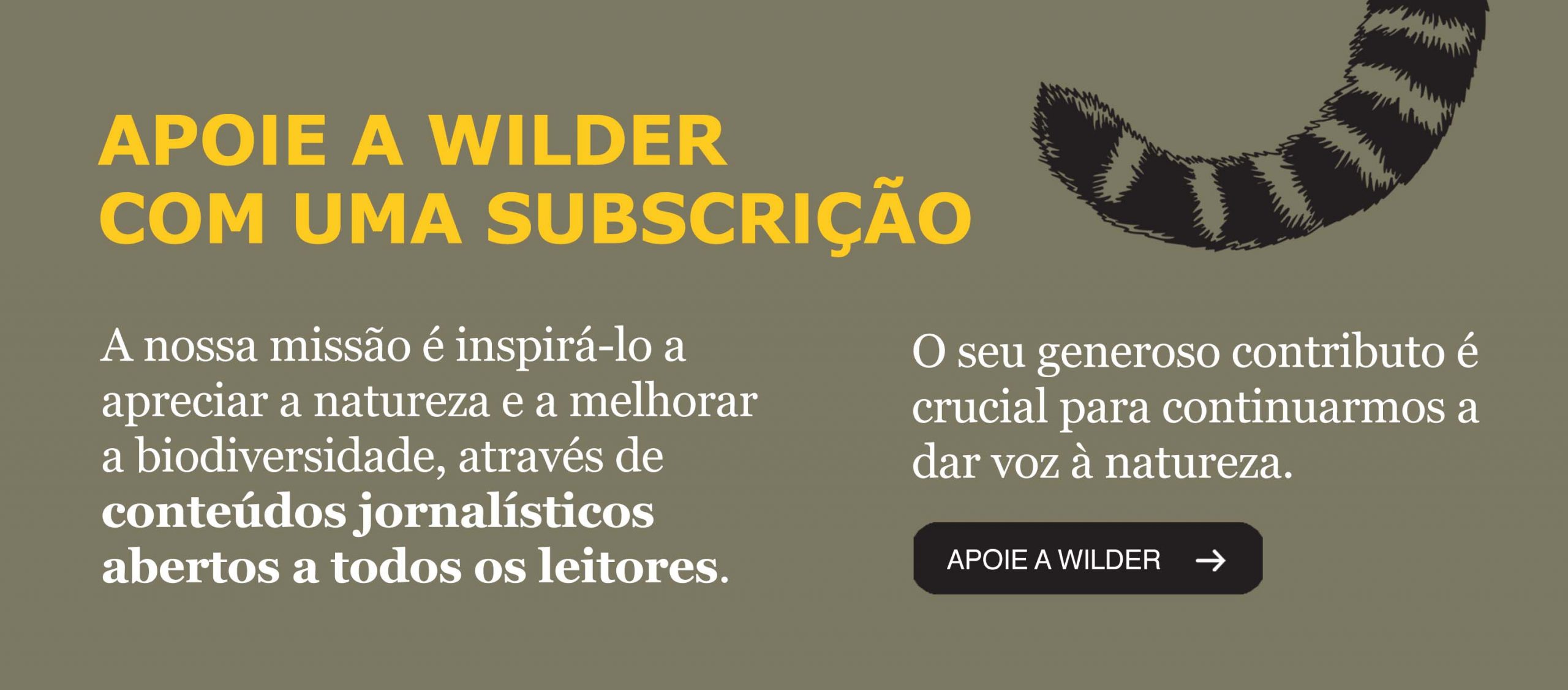Portugal continua a arder avassaladoramente. Se, felizmente, a tragédia humana resultante dos mortíferos incêndios de 2017 não se repetiu, grandes fogos continuaram a fustigar o território nacional nos anos que se seguiram. E vão continuar, com uma gravidade apenas condicionada pelas condições climatéricas que se verificarem nos períodos mais críticos.
Aproximamo-nos de mais um verão. Cada vez mais imprevisíveis, o que do deste ano se espera é que não seja extremo no que respeita a temperaturas, ventos e grau de secura, os fatores que realmente determinam a maior ou menor gravidade dos fogos rurais em Portugal. No longo período de inverno que atravessamos só se ouviu falar dos meios de combate que se preparam para fazer face a mais uma “época” de fogos. Nem uma campanha eleitoral motivou o debate daquela que deveria ser a reforma das reformas estruturais de que tanto se fala, neste caso, não apenas para minorar o flagelo dos fogos florestais mas principalmente para agir em torno de um conjunto de questões de enorme importância, algumas de extrema gravidade todas elas convergindo no estado em que se encontra o coberto vegetal em Portugal. Coberto vegetal, faço notar e não floresta, algo de que muito se fala mas que em Portugal, verdadeiramente, só ocorre de uma forma marginal.
É difícil, provavelmente impossível, encontrar no seio da União Europeia um país em que se tenha destruído a floresta tão profundamente como em Portugal. O seu reconhecimento deveria merecer um apoio comunitário em grande escala, para inverter a situação. Mas não existindo esse reconhecimento por parte da sociedade portuguesa, em geral, e do poder politico em particular, essa ajuda nem sequer é tentada. E ao espaço comunitário também dá jeito que exista um grande fornecedor de produtos baseados na exploração das celuloses. Não me conformo com esta indiferença, com este bom convívio com uma situação tão penalizadora sob o ponto de vista ambiental, económico e social.
Os custos desta falta de visão estratégica, da ausência de um planeamento do país a longo prazo, são enormes. E muitos. Uns imediatos, outros com tendência para se agravarem com o decorrer do tempo. Todos os anos, pagamos todos os custos do combate, muitas vezes ineficaz, aos fogos em manchas artificiais de extensas monoculturas de eucaliptos e de pinheiros-bravos, algumas plantadas mas, a maior parte, simplesmente decorrentes de regeneração descontrolada na sequência de incêndios anteriores. Onde o arvoredo já não existe e não se recupera, progridem matos infestantes, rastilhos permanentes para que novos incêndios aconteçam.
É sabido que Portugal se encontra numa região particularmente vulnerável ao efeito global das alterações climáticas. A ausência de floresta, incentiva a desertificação, a erosão dos solos, a escassez de água e o consequente desencadear de calamidades naturais. A sua substituição por monoculturas intensivas de espécies maioritariamente exóticas também explica o êxodo rural.
Portugal continua a arder avassaladoramente. Se, felizmente, a tragédia humana resultante dos mortíferos incêndios de 2017 não se repetiu, grandes fogos continuaram a fustigar o território nacional nos anos que se seguiram. E vão continuar, com uma gravidade apenas condicionada pelas condições climatéricas que se verificarem nos períodos mais críticos. No terreno, de essencial, pouco mudou. Portugal não se está a prevenir para um futuro que se sabe cada vez mais problemático.
E o que mudaria com uma alteração substancial do coberto vegetal em Portugal, com o regresso da floresta de uma forma abrangente e consistente? Certamente que daí resultariam benefícios ambientais, económicos, nomeadamente turísticos e também sociais. Muito importante, permitiria um melhor enfrentamento das alterações climáticas. O grave problema da escassez de água não se resolve com a construção, contraproducente, de mais e mais novas barragens se a chuva cair cada vez menos nas bacias hidrográficas dos rios onde são erigidas.
O Estado Central e as autarquias devem dar o exemplo. Com incentivos concretos e eficazes. Promovendo a união de proprietários tendo em vista a gestão conjunta de florestas de maior dimensão, disponibilizando espécies autóctones, assegurando acompanhamento técnico para a sua colocação no terreno, restaurando uma rede estratégica de guardas florestais, recuperando infraestruturas nomeadamente os viveiros florestais há muito abandonados. Motivando a mudança, há que criar mecanismos de apoio que concedem tempo para que ela faça surgir atividades economicamente rentáveis. Sim, é preciso tempo, um investimento continuado e paciente para reverter o que andamos a destruir durante décadas ou mesmo séculos.
Mas ao Estado Central mais se deve exigir, porque principalmente a ele cabe assegurar também a preservação de uma floresta de conservação, onde não apenas seja restaurado o arvoredo natural mas também impedido a sua sujeição a fogos e queimadas constantes que impedem a existência de manchas maduras detentoras da biodiversidade que apenas nelas se confere. Se tal implicar custos para quem vive mais perto e de alguma forma dependente deste património reconhecido, cabe-nos a todos suportá-los, compensando eventuais restrições ou indemnizando por prejuízos atribuídos à vida selvagem que se quer preservar. O pastoreio e o lobo são dois temas que sobressaem, dois problemas que continuam por resolver.
A estratégia de intervenção – ou a falta dela – com que nos confrontamos na rede de áreas protegidas tem que mudar. É inaceitável o generalizado estado de degradação que leva à ocorrência de fogos tão devastadores como aquele que destruiu recentemente o Parque Natural da Serra da Estrela. No Parque Nacional da Peneda-Gerês, setenta por cento do seu território são matos degradados e parte substancial do arvoredo mais expressivo que ainda subsiste, são resquícios do que o Estado Novo plantou, há muitas décadas atrás.
Mudanças anunciam-se, agora que um novo governo avança. O retorno das Florestas ao Ministério da Agricultura, separando-as da Conservação da Natureza e consequentemente da pasta do Ambiente afigura-se como provável. Tratando-se da organização estrutural do Estado, responsável pela gestão das matas nacionais e pela regulamentação destes setores, faz mais sentido existir uma visão conjunta, com as duas áreas debaixo de uma mesma gestão, ambiental naturalmente, em especial nos espaços classificados pelo património natural que neles se quer conservar. Mas a pergunta que se impõe é que alteração trouxe, na prática, no terreno, o F – que deveria ser realmente de Floresta – acrescentado ao ICN (Instituto da Conservação da Natureza) transformando-o no ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas)?
Para quando floresta em Portugal?
Miguel Dantas da Gama é preservacionista e membro do Conselho Estratégico do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Leia aqui todas as crónicas deste autor.